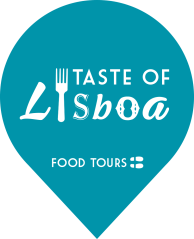O que os portugueses costumam ter na despensa

Quer esteja num apartamento no centro de Lisboa, numa casa de campo no Alentejo ou numa moradia familiar nos Açores, ao entrar numa cozinha portuguesa há um conjunto de ingredientes familiares que, quase sempre, se encontram na despensa e no frigorífico. Uma garrafa de azeite é garantida, assim como folhas de louro secas, às vezes guardadas num frasco ou penduradas na parede ou atrás da porta. E há quase sempre uma lata de atum à espera de quando falta a inspiração ou o tempo. Ingredientes como estes são muitas vezes a base das refeições tradicionais portuguesas, ou seja, da comida que uma família típica costuma preparar em casa.
Cozinhar em casa continua a fazer parte do quotidiano da maioria das pessoas em Portugal. Embora comer fora seja bastante comum, em zonas urbanas, e a vida social aconteça muitas vezes nos cafés e nas tascas, a verdade é que a maioria das famílias continua a preparar a maior parte das refeições em casa. Tradicionalmente, o almoço era a principal refeição quente do dia, o que explica por que razão, ainda hoje, é comum ver pratos de peixe ou estufados a borbulhar no fogão durante a semana. O jantar costuma ser algo mais leve, muitas vezes aproveitando sobras, uma simples sopa ou uma refeição mais improvisada, feita com o que houver na despensa. Mas, ao contrário do que acontece noutros países, a maioria dos portugueses continua a fazer questão de comer uma refeição quente ao final do dia. Esta é, por exemplo, uma das grandes diferenças entre os hábitos alimentares em Portugal e em Espanha.
A geografia de Portugal ajuda a explicar muito do que entra nas nossas cozinhas. O Oceano Atlântico faz com que o peixe esteja praticamente sempre presente na nossa alimentação, e o peixe em conserva foi um alimento básico muito antes de se tornar gourmet. O interior do país fornece leguminosas, pão e enchidos, que são essenciais para os pratos de tacho que tanto marcam a nossa gastronomia de conforto.
Embora existam muitos ingredientes básicos em comum de norte a sul, há também algumas nuances regionais: numa cozinha no Minho é quase certo encontrar broa de milho no balcão, enquanto uma despensa no Algarve poderá ter mais amêndoas, figos e alfarroba. Na Madeira, é mais provável encontrar mel de cana, e nos Açores os laticínios ganham destaque. Mas, olhando para o país como um todo, percebe-se uma notável consistência e, no essencial, um ADN culinário comum que atravessa regiões e, em muitos casos, até as gerações mais recentes.
Quem nos visita do estrangeiro costuma surpreender-se com a simplicidade da despensa portuguesa, sobretudo tendo em conta que a nossa gastronomia tem sido apontada, nos últimos anos, como uma das mais interessantes (ainda que subvalorizadas) do mundo. É verdade que usamos poucos molhos e condimentos. A cozinha portuguesa assenta, sobretudo, numa lista curta mas poderosa de ingredientes, que se repetem vezes sem conta, mas em combinações diferentes. Para alguns, isso poderá parecer limitativo. Para outros, há uma beleza enorme nessa simplicidade pois afinal, com meia dúzia de ingredientes, consegue-se criar um repertório culinário que se sente vasto e variado.
Ao observar o que os portugueses costumam ter na despensa, como fazem compras e o que cozinham, acaba por compreender-se melhor toda uma forma de estar e de viver. Afinal, o que está nas nossas prateleiras diz muito sobre quem somos.
Imagem de capa cortesia de Portugal Realty
Azeite, condimentos e aromáticas na despensa portuguesa
 Imagem cortesia de Couleur via Pixnio
Imagem cortesia de Couleur via Pixnio
Se há algo que se aprende rapidamente em Portugal, é que praticamente nenhuma refeição começa sem azeite. Embora a manteiga ou óleos vegetais, como o de girassol, possam aparecer pontualmente em certas receitas, o azeite é, de longe, o ingrediente que melhor define a cozinha portuguesa. Não é incomum que as famílias tenham mais do que um tipo de azeite em casa. Muito provavelmente um azeite virgem extra mais forte e picante, vindo do Alentejo ou de Trás-os-Montes, reservado para temperar pratos e saladas (ou seja, para usar cru), e uma versão mais suave, por vezes mais económica, para cozinhar. Se quiser fazer como os portugueses, junte um fio de azeite na sopa já depois de empratada. Isso vai intensificar o sabor e, ao mesmo tempo, permitir-lhe tirar maior proveito dos benefícios do azeite para a saúde, que são maiores quando consumido cru.
Mesmo ao lado do azeite, costuma encontrar-se o vinagre de vinho. Embora o vinagre balsâmico ou o de sidra tenham ganho popularidade nos últimos anos, por serem considerados mais modernos, a despensa portuguesa mantém-se fiel às suas raízes. O vinagre de vinho tinto, em particular, é indispensável para temperar saladas, marinar sardinhas ou carne de porco, ou para dar aquele toque ácido e cheio de vida a pratos com leguminosas (como a típica meia desfeita de bacalhau lisboeta) ou a salada de polvo, como se vê em cozinhas por todo o país.
As azeitonas também são uma constante na despensa. Servem-se no início de muitas refeições em restaurantes e, frequentemente, também em casa, provavelmente não no dia a dia, mas pelo menos quando há visitas, para ir petiscando até se servir o prato principal. Mas mais do que serem consumidas por si só, as azeitonas são um ingrediente essencial sobretudo pelo modo como são usadas na cozinha, nomeadamente para finalizar pratos emblemáticos como várias receitas de bacalhau, incluindo o bacalhau à Brás.
Outro frasco que costuma estar guardado é o de massa de pimentão, uma pasta espessa feita com pimentos vermelhos, alho e sal, tradicionalmente conservada em azeite. É a base de inúmeras marinadas, sobretudo de carne de porco, sendo usada em receitas tradicionais alentejanas como a carne de porco à alentejana.
No que toca a ingredientes aromáticos, a cebola e o alho estão tão presentes que quase nem contam como ingredientes. O alho é muitas vezes utilizado esmagado em vez de picado, ou pelo menos cortado em rodelas grossas, já que o seu sabor suaviza durante a cozedura lenta em azeite. A cebola é a base de sopas e guisados, e quando cozinhada lentamente com azeite e louro, dá origem àquilo que muitos consideram a santíssima trindade do sabor português. E já que falamos disso, o louro é a aromática mais humilde mas mais essencial na cozinha nacional. Usa-se em tachos de feijão, caldeiradas, arrozes e até em algumas marinadas de carne. O seu aroma é inconfundível, e quase todas as famílias têm um molho de folhas secas à mão, muitas vezes colhidas da árvore de um vizinho, mais do que compradas no supermercado. Para muitos de nós, pagar por louro nem faz sentido.
O piri-piri é outra presença comum na despensa portuguesa, embora se use mais à mesa do que durante a confeção. Seja sob a forma de azeite picante ou de um molho à base de vinagre, dá uma certa ousadia a pratos grelhados, mariscos, sopas ou qualquer prato que precise de um toque mais arrojado. A sua origem remonta à ligação de Portugal com África, em especial com as ex-colónias de Angola e Moçambique, refletindo a influência das rotas globais das especiarias no nosso dia a dia. Embora a comida portuguesa não seja, regra geral, conhecida por ser picante, o piri-piri mostra que, quando queremos intensidade, sabemos bem onde encontrá-la, como é o caso do frango de churrasco, internacionalmente conhecido como peri-peri chicken.
Como se percebe, a cozinha portuguesa não depende de dúzias de especiarias nem de muitos intensificadores de sabor. A paleta de temperos pode parecer limitada para alguns, mas sabemos usá-la com talento, de forma a criar um sabor coerente e reconfortante, reconhecível de norte a sul do país.
O pão, o arroz e as batatas na cozinha portuguesa
 Imagem cortesia de Pão Real via Wikimedia Commons
Imagem cortesia de Pão Real via Wikimedia Commons
Independentemente da refeição, há quase sempre pelo menos um tipo de hidrato de carbono à mesa portuguesa. Na verdade, o mais comum é haver dois ou três: arroz ou batatas no prato principal, e pão servido num cesto à parte. Quando falamos de hidratos, o arroz, o pão e as batatas são os três pilares que alimentaram gerações, e a sua presença constante não é coincidência, é antes o resultado de fatores geográficos, agrícolas e até políticos. Como se sabe, os hidratos saciam, são geralmente económicos e saborosos, o que os tornou uma fonte de energia privilegiada ao longo de séculos. Ainda hoje, para muitos portugueses, não é estranho encontrar dois, ou até três, acompanhamentos à base de hidratos no mesmo prato.
O pão é central na alimentação portuguesa há séculos, e os diferentes tipos existentes estão diretamente ligados à agricultura local. No norte do país, com a chegada do milho vindo das Américas, a broa de milho, um pão denso e ligeiramente adocicado, tornou-se o pão do dia-a-dia na região do Minho. No Alentejo, os vastos campos de trigo deram origem ao pão alentejano, grande, rústico e geralmente cozido em forno de lenha, feito de modo a durar vários dias. Em Trás‑os‑Montes e nas regiões do centro, onde os solos eram menos férteis, o centeio e as farinhas de mistura eram mais comuns, originando pães escuros e mais pesados. Durante muito tempo, o tipo de pão consumido também refletia a classe social, sendo que os mais ricos comiam pão de trigo, enquanto as populações rurais comiam broa ou pão de centeio. A ditadura do Estado Novo (1933–1974) promoveu o pão de trigo como padrão nacional, marginalizando os pães tradicionais feitos com milho e centeio. Só nas últimas décadas é que esses pães regionais começaram a regressar ao quotidiano, com o impulso das padarias artesanais e das indicações geográficas protegidas. Felizmente, hoje em dia, tanto nos supermercados como nas melhores padarias artesanais do país, é fácil encontrar uma variedade de pães feitos com trigo, centeio ou milho.
Sendo um alimento essencial, o pão nunca se desperdiçava. Pão duro transformava-se em açorda, era usado como base para pratos com molho (como o ensopado), ou em migas, espécie de pudim salgado preparado com alho, azeite e outros ingredientes para dar sabor. A escassez esteve na origem de algumas das receitas mais queridas da cozinha portuguesa, o que mostra como a tradição alimentar nacional está intimamente ligada a uma lógica de aproveitamento e desperdício mínimo. Se quiser aventurar-se a cozinhar em sua casa, partilhamos aqui algumas das melhores receitas portuguesas com pão duro.
O arroz é cultivado em Portugal desde a Idade Média, altura em que os sistemas agrícolas introduzidos pelos árabes no sul do país trouxeram também sistemas de regadio. Mas só nos séculos XVIII e XIX é que o arroz se tornou um alimento de base, com o cultivo em larga escala nas zonas do Tejo e do Sado, onde os solos alagados se mostraram ideais. Atualmente, Portugal continua a produzir arroz suficiente para satisfazer a maioria do consumo interno, algo pouco comum na Europa. A variedade mais portuguesa é o arroz Carolino, de bago curto e rico em amido, ideal para absorver sabores e criar texturas cremosas, como acontece no arroz de tomate ou no tão apreciado arroz de marisco. É este arroz que sustenta a preferência portuguesa pelo chamado arroz malandrinho, húmido e quase ensopado, algures entre um risotto e um guisado. Por contraste, o arroz Agulha (de bago longo) só começou a ganhar espaço nas últimas décadas, escolhido por muitas famílias urbanas pela sua rapidez de confecção e por não empapar. A maioria das casas portuguesas têm ambas as variedades na despensa, já que cada uma serve um propósito específico e são indispensáveis para cozinhar os pratos de arroz mais emblemáticos da gastronomia portuguesa.
A batata, por sua vez, chegou da América no século XVI e, gradualmente, substituiu as bolotas e as castanhas como principal fonte de hidratos nas zonas rurais. A sua popularização está ligada à necessidade e à versatilidade, pois crescia bem em solos pobres, conservava-se com facilidade e saciava a baixo custo. No século XIX, já era um alimento básico em todo o país, e não há dúvida de que continua a sê-lo hoje.
Nos supermercados e mercados portugueses, as batatas são normalmente vendidas com indicações de uso e não tanto por variedade, ao contrário do que acontece noutros países. Os rótulos dizem “batata para cozer”, “batata para fritar” ou “batata para assar”, sendo raro encontrarem-se os nomes das variedades em si. A lógica é simples: as batatas mais firmes são ideais para cozer e acompanhar peixe grelhado, enquanto as mais ricas em amido são melhores para assar no forno ou fritar. Em muitas casas, as batatas cozidas são o acompanhamento padrão, temperadas apenas com um fio de azeite, mas também se utilizam em guisados, assadas inteiras, ou fritas, não apenas em palitos à moda dos restaurantes de fast food, mas também às rodelas, como nas tradicionais batatas fritas às rodelas que acompanham o clássico bitoque.
Em Portugal, é comum os hidratos conviverem no mesmo prato. Um bife grelhado, por exemplo, pode vir acompanhado de arroz e batatas fritas. Embora esta “dupla de hidratos” possa parecer estranha para alguns, não é algo exclusivo da cozinha portuguesa. Combinam-se hidratos em muitos países da América Latina e da Ásia, como na Índia, onde arroz e pão, ou arroz e batatas, fazem parte da mesma refeição. Estas combinações têm origens práticas, garantindo maior saciedade e, num contexto de trabalho físico intenso, ajudavam a garantir o consumo calórico necessário. Em regiões como o Alentejo, onde o trabalho agrícola moldava a vida quotidiana, juntar arroz, batata e pão no mesmo prato era uma necessidade. Hoje em dia, é apenas saboroso e, para muitos portugueses, um prato com apenas um hidrato parece incompleto.
A massa, embora não tradicional, começou a surgir nas cozinhas portuguesas a meio do século XX, incentivada pela indústria alimentar que a promovia como moderna e prática. Nos anos 80, cotovelos com molho de tomate ou esparguete com carne picada “à bolonhesa” tornaram-se pratos de eleição entre as crianças, e hoje a massa está presente na maioria das despensas. Tanto assim que, muitas vezes, chega até a substituir os típicos grãos de arroz na tradicional canja de galinha. Embora não tenha o mesmo peso cultural do arroz, pão ou batata, o seu uso em pratos que já se tornaram tradicionais, como a massada de peixe, mostra como as influências globais conseguiram penetrar na nossa cultura alimentar, até aqui bastante enraizada. Afinal, a cultura, incluindo a culinária, está sempre em evolução.
As proteínas do dia a dia na cozinha portuguesa
 Imagem cortesia de Kolforn via Wikimedia Commons
Imagem cortesia de Kolforn via Wikimedia Commons
Na cozinha portuguesa do dia a dia, a proteína nem sempre vem de um grande pedaço de carne no prato. Na verdade, muitos dos nossos pratos mais emblemáticos são construídos à volta de fontes de proteína modestas, acessíveis, mas muito saborosas, que fazem parte das nossas despensas há muito tempo. Feijão, ovos, peixe enlatado e enchidos fazem parte da maioria dos lares portugueses, assim como o bacalhau salgado seco, pois todos são práticos, versáteis e com um perfil de sabor que nos é muito familiar.
Historicamente, o feijão e as leguminosas são dos ingredientes mais comuns nas despensas portuguesas. Feijão manteiga, feijão encarnado, feijão frade e grão-de-bico eram tradicionalmente comprados a granel e cozinhados em grandes quantidades. Curiosamente, apesar de vermos lentilhas à venda nos supermercados, estas nunca conquistaram o mesmo espaço que têm, por exemplo, logo aqui ao lado, em Espanha. Hoje em dia, algumas famílias ainda compram leguminosas secas e cozem-nas em casa, mas, por uma questão de conveniência, a maioria também têm frascos ou latas na despensa, prontas a usar numa salada rápida ou para enriquecer uma sopa com um extra de proteína. Em tempos, as leguminosas eram a principal fonte proteica das famílias que não podiam comer carne regularmente, sobretudo no meio rural. O que não impedia que se juntassem pedacinhos de carne às receitas para dar sabor e reforçar o prato, mas a proteína animal raramente era a protagonista.
Apesar de continuarem a ser um pilar da alimentação, a presença diária das leguminosas foi diminuindo nas últimas décadas. À medida que a população foi tendo mais acesso a melhores rendimentos, tornou-se mais comum servir refeições centradas em pedaços maiores de carne ou peixe, relegando o feijão para acompanhamento, ou mesmo eliminando-o por completo. Aquilo que antes era um guisado bem servido com alguns pedaços de carne de porco transformou-se num prato de carne grelhada com arroz e batatas fritas. Em certos contextos, essa mudança até gerou um certo estigma, e as leguminosas passaram a ser vistas como “comida de pobre”. Felizmente, essa perceção tem vindo a mudar. Com a crescente atenção à saúde, à sustentabilidade e o aumento de dietas vegetarianas ou flexitarianas, sentimos que as leguminosas estão a voltar a ter protagonismo. São nutritivas, acessíveis e sustentáveis, e ainda por cima, muito saborosas, por isso é bom vê-las a recuperar o seu lugar no centro do prato.
Os ovos são outro elemento proteico de peso na cozinha portuguesa. Estão presentes na maioria das casas, não só para as refeições do dia a dia, como mexidos, estrelados, cozidos para saladas, para panar alimentos fritos ou dar cremosidade a pratos à Brás, mas também porque continuam a ser essenciais na doçaria. Apesar de Portugal ser conhecido pelos doces conventuais cheios de gemas, a verdade é que a maioria das pessoas não faz esses doces em casa, pelo menos não com frequência. Em casa, opta-se normalmente por sobremesas portuguesas mais práticas e simples, como o leite creme, o arroz doce ou o pudim flan. São doces fáceis de preparar em grandes quantidades e ideais para aqueles almoços de domingo com a casa cheia de família.
As conservas são outro pilar da proteína na despensa portuguesa. Ao contrário de outros países onde o atum ou as sardinhas em lata são vistos como comida de recurso, em Portugal são ingredientes valorizados e, por vezes, até considerados gourmet. Atum, sardinha, cavala, carapau, polvo e até bacalhau e enguia aparecem em conserva, muitas vezes em azeite, molho picante, tomate ou ervas. Estas conservas surgiram como ração de guerra e como solução prática durante o Estado Novo, mas enraizaram-se de tal forma nos hábitos alimentares que nunca desapareceram. Para muitas pessoas, uma refeição rápida e satisfatória ainda hoje é abrir uma lata de atum, misturá-la com feijão frade, cebola, azeite e um fio de vinagre, e está feito o almoço.
Os enchidos também têm um papel importante na forma como construímos sabor nas nossas refeições. Não são exatamente produtos de despensa, já que hoje em dia se conservam no frigorífico, mas sempre foram usados em pequenas quantidades para dar gosto a muitos pratos. Rodelas de chouriço, morcela, alheira ou farinheira entram em guisados, feijoadas, pratos de arroz e até em sopas como o caldo verde. Também podem ser comidos tal como estão, com ou sem pão, mas quando não vêm já fatiados, como é comum hoje em dia no balcão de frios do supermercado, são sobretudo usados para dar ainda mais sabor a outros ingredientes. Culturalmente, tudo isto está ligado à tradição católica. A carne era proibida em muitos dias religiosos, e o porco, que podia ser facilmente conservado depois da matança, tornou-se uma proteína central. Era salgado, fumado, transformado em enchido e seco ao ar, garantindo sabor para o ano inteiro às famílias que tinham de esticar recursos. Ainda hoje, um simples pedaço de chouriço num tacho de feijão transforma o prato, e fá-lo de forma inconfundivelmente portuguesa.
Nenhuma lista de produtos essenciais na despensa portuguesa está completa sem o bacalhau salgado seco, que faz parte da nossa alimentação há séculos. Apesar de não ser pescado nas águas portuguesas, ganhou protagonismo porque podia ser conservado, transportado e armazenado durante longos períodos, tornando-se numa fonte de proteína fiável num país onde o peixe fresco era abundante no litoral, mas difícil de encontrar no interior, especialmente antes da chegada da refrigeração e dos transportes modernos. Hoje em dia, muitas casas continuam a ter pelo menos uma posta de bacalhau seco guardada, pronta a demolhar e usar em pratos clássicos como o bacalhau à Brás, o bacalhau com natas ou o bacalhau à Gomes de Sá. Para quem prefere um processo mais curto, os supermercados portugueses também vendem bacalhau já demolhado e congelado, pronto a usar.
Queijo e manteiga: o que nunca falta no frigorífico português
 Imagem cortesia de MOs810 on Wikimedia Commons
Imagem cortesia de MOs810 on Wikimedia Commons
Não ficam na despensa, mas nenhum frigorífico português se sente completo sem, pelo menos, um pedaço de queijo e uma embalagem de manteiga. São dois ingredientes usados diariamente, ao pequeno-almoço, nos lanches e até para dar o toque final a muitos pratos.
A maioria das casas tem sempre um queijo mais básico, como o queijo flamengo, um queijo suave que costuma vir fatiado ou em bolas pequenas. Serve sobretudo para sandes, tostas ou cortado em cubinhos como snack rápido. É uma espécie de queijo todo-terreno em Portugal, porque é barato e versátil, embora não tenha propriamente um caráter muito local. A par deste, pode haver uma cunha de algo com mais personalidade, por exemplo queijo de Azeitão, de São Jorge, da Serra da Estrela ou outros queijos regionais portugueses, consoante a zona do país, o gosto da família, ou mesmo o orçamento. Mesmo que estes queijos sejam hoje mais considerados queijos de ocasião especial, continuam a aparecer em muitas casas, nem que seja para servir como entrada quando há visitas.
A manteiga é igualmente transversal e, em Portugal, costuma ser bastante salgada. Há famílias que preferem variedades mais amareladas, e outras que optam por manteigas artesanais mais esbranquiçadas, como as dos Açores. Mas a verdadeira discussão nacional é se a manteiga deve ser guardada no frigorífico ou fora dele. Há quem defenda que deve ficar à temperatura ambiente, pelo menos no inverno, para ser mais fácil de barrar, e quem ache impensável não a manter fria.
Até há bem pouco tempo, nenhum frigorífico português estava completo sem uma taça de marmelada. Fazia-se em casa no outono, quando os marmelos estavam na época. Cozidos com açúcar e vertidos em taças de barro ou vidro até endurecerem, transformavam-se em fatias que se comiam com queijo, dentro do pão ou como sobremesa. Embora esta tradição se tenha desvanecido nas cidades, continua viva nas zonas rurais e em casas onde ainda há uma avó ou tia que faz marmelada todos os anos. A combinação de queijo com marmelada talvez já não seja tão comum hoje em dia, mas continua a ser considerada um clássico.
Ingredientes doces que a maioria dos portugueses tem em casa
 Imagem cortesia de Ruby Sengal via Pexels
Imagem cortesia de Ruby Sengal via Pexels
As sobremesas portuguesas apresentam uma enorme variedade de formas e nomes, mas quase todas partem de um conjunto muito limitado de ingredientes: açúcar, canela, gemas de ovo, leite e, por vezes, amêndoa ou raspa de citrinos. Mesmo em casas onde não se cozinha doces todos os dias, é habitual ter estes essenciais na despensa.
O açúcar é, naturalmente, a base de tudo. Mas o seu peso na cozinha portuguesa vai muito além da doçura. Portugal foi um dos primeiros países europeus a produzir açúcar em grande escala, graças às suas colónias na Madeira, São Tomé e, mais tarde, no Brasil. Já no século XVI, o açúcar era não só um bem de luxo mas também uma força política e económica, controlada pelas elites mas que, pouco a pouco, chegou também aos conventos, às confeitarias e, por fim, aos cozinheiros domésticos. No século XVIII, a doçaria conventual já era uma realidade em todo o país, e o açúcar tinha substituído o mel como principal adoçante na confecção de sobremesas.
A canela, em pau ou em pó, é talvez a especiaria mais imediatamente associada à doçaria portuguesa. Polvilha-se no arroz doce, junta-se ao leite creme, e aparece em massas e caldas de bolos e fritos. A sua presença nas cozinhas portuguesas remonta às rotas de especiarias da época dos Descobrimentos. Tal como o açúcar, também a canela foi em tempos um produto de luxo, associado a festas religiosas e ocasiões especiais. Hoje está plenamente democratizada, e é tão comum que muitos portugueses não concebem servir arroz doce sem aquele rendilhado de pó de canela por cima, ou dar uma dentada no pastel de nata sem antes lhe juntar uma camada generosa de canela.
Se o açúcar e a canela são quase universais, há outros ingredientes doces que variam mais de região para região. No sul do país, sobretudo no Algarve e no Alentejo, o mel é por vezes usado em vez de açúcar. Está presente em doces tradicionais como filhós de mel ou bolo de mel do Algarve, e também é usado em preparações do dia a dia, como para regar sobre requeijão. O uso do mel está ligado à herança rural destas regiões e à proximidade de paisagens ricas em flores silvestres. Em algumas zonas do interior, ainda se compra mel diretamente aos apicultores, em frascos reutilizados, mostrando que, para muitos portugueses, há ingredientes que continuam a vir das mãos de quem conhecemos, e não das prateleiras do supermercado.
Frutos secos como figos, amêndoas, nozes e passas também são presença habitual na despensa, sobretudo no sul e nas ilhas. No Algarve, os figos e as amêndoas são ingredientes centenários, e aparecem em doces de influência mourisca, como os morgados (doces de amêndoa e gema cobertos de açúcar) ou os queijinhos de figo (pequenas bolinhas de figo e amêndoa em forma de queijo). Na Madeira, os frutos secos e cristalizados marcam presença no denso e escuro bolo de mel, um bolo especiado com melaço comido ao longo do ano, mas sobretudo no Natal. Estes ingredientes talvez não sejam usados todos os dias, mas têm lugar garantido na despensa por durarem muito tempo.
Quase todas as casas portuguesas têm também um frasco de compota ou doce de fruta, seja no frigorífico ou na despensa. Barramos no pão, claro, mas também usamos como sobremesa improvisada, por cima de uma fatia generosa de queijo. Mesmo que a marmelada já não seja tão comum como outrora, esta combinação de doce com salgado continua a viver através de sabores tipicamente portugueses como doce de abóbora com noz, figo, gila ou até tomate.
Olhar para a despensa de uma casa portuguesa é uma das formas mais rápidas de perceber como vivemos. Aquilo que guardamos nas prateleiras revela muito sobre nós. A geografia vê-se nos pães que comemos, a política na transição do centeio para o trigo, as rotas coloniais no açúcar e na canela, a persistência da vida rural na forma como fazemos render uma única chouriça por um tacho de feijoada. Sente-se nisto tudo o peso da religião, do poder de compra, das migrações e da globalização, que moldam o que nos vai parar ao prato.
Se quiser conhecer melhor estes ingredientes e prová-los em pratos tradicionais, junte-se a um dos passeios culturais e gastronómicos da Taste of Lisboa.
Continue a alimentar a sua curiosidade pela cultura gastronómica portuguesa:
O guia completo do azeite em Portugal
Onde os lisboetas fazem as suas compras do dia a dia
As melhores padarias artesanais em Portugal
Os melhores chefs privados que pode contratar em Lisboa
O que é que os portugueses comem em casa?
Pessoas genuínas, comida autêntica. Venha connosco onde os portugueses e lisboetas vão:
Reserve o seu lugar na nossa próxima experiência gastronómica & cultural.
Siga-nos para mais em Instagram, Twitter e Youtube